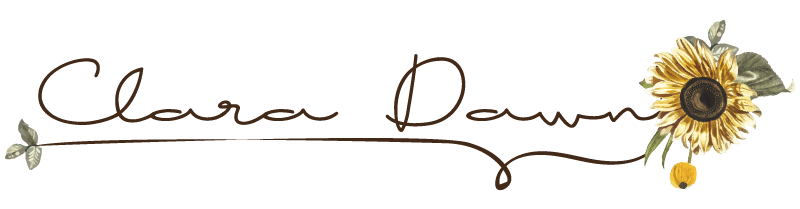As águas que se foram moveram novamente o velho moinho, que já havia passado desta para uma pior. Enquanto o vento revolvia os restos mortais do pobre, a chuva enchia seu reservatório com as águas turvas daquela cloaca lamacenta onde os patos lavavam os pés antes do almoço. O mesmo vento sacudiu os galhos do pau-terra e, em meio a essa sofreguidão, suas flores exalaram um aroma exótico que se misturava ao perfume das polianas do cerrado. Era novembro, e chovia! E a chuva não apagava o brilho dos raios solares, mas ninguém ali aproveitava essa imagem singular.
Um casebre de pau-a-pique, com alguns lençóis de algodão-cru pendurados na cerca de arame farpado, dava ao ambiente um aspecto lúgubre. Cenário decrépito! Cenário decrépito que embaçava o dia e desertificava o cerrado. Dentro do casebre, um ancião tocava sua igualmente decrépita rabeca. Seus dedos envelhecidos ousavam tocar a “Ave Maria” de Bach. Como ousava? Ganhara cordas novas, não ele, mas a rabeca. Agora, o som estava límpido, e, certamente, Johann Sebastian Bach gostaria de ouvir sua composição ser rezada por ela. A música preenchia o casebre com uma majestade singular. O homem parecia alheio à devassidão de sua vida e demonstrava não precisar de nada além de sua rabeca, que tocava aquelas notas sem sequer saber quem as compôs.
Mas isso não importava. Realmente não importava. Ele chorava, não de tristeza, mas de saudade. Saudade dos sonhos que nunca se realizaram, mas que, ainda assim, lhe davam motivos para acordar todos os dias. Sobre a mesa repousava um vidro, desses usados para compotas, cheio de sementes de girassol. Antes, ele cultivava um canteiro dessas flores nos fundos do quintal. Os filhos se foram, levando as flores; os netos se foram, levando os caules. As raízes apodreceram, e a terra as engoliu.
O homem tocava sua rabeca de olhos fechados, e era bonito de se ver. Era a coisa mais linda que se podia enxergar, para quem buscava ver além do óbvio. Era a melodia mais sublime que os ouvidos podiam ouvir, para quem prestava atenção à pureza do som. Seu rosto refletia as marcas do tempo, com rugas que narravam sua história. Seu olhar, enevoado pela passagem dos anos, revelava uma vontade de viver cada vez mais frágil. Mas o que chamava a atenção não eram suas rugas, e sim uma pequena cicatriz no lado superior esquerdo de sua testa franzida. Uma cicatriz quase imperceptível, confusa em seu desejo de ser apenas uma cicatriz e não um inevitável vinco.
Aquele rosto carregava um labor inconfundível, arrancado pelas raízes da vida enquanto ele tocava a rabeca e chorava. A cicatriz lamentava sua “desexistencial” importância. Porém, houve um tempo em que ela viveu os melhores momentos do homem. Dias em que recebia deferência, era tocada e comentada várias vezes. Dias em que ela não era uma mera lembrança distante, mas o próprio momento vivido. Não importava mais como surgiu. Se apareceu durante a lida do “pão nosso de cada dia” ou enquanto ele colhia seus girassóis. Não importam as cicatrizes quando se têm rugas.
O homem parou de tocar, caminhou até a mesa, pegou o vidro de compota e retirou a tampa, derramando algumas sementes sobre a mesa. Selecionou, com a mão esquerda, as mais graúdas. Depois, caminhou até seu antigo canteiro e as lançou ao vento. Algumas caíram a seus pés; outras, o vento levou para longe; e talvez uma ou duas tenham caído exatamente onde ele imaginava.
Porém, o velho morrerá, e suas rugas morrerão com ele. Mas suas cicatrizes permanecerão naquelas sementes de girassol e em tudo o que elas representam.
Texto publicado originalmente no jornal Diário da Manhã em 23 de dezembro de 2017