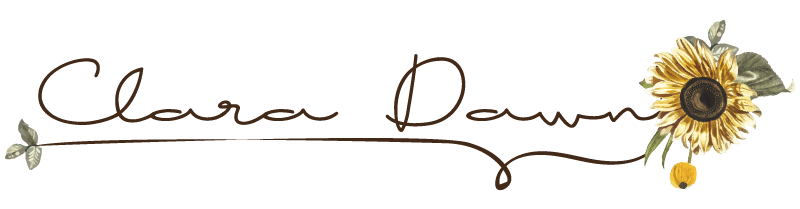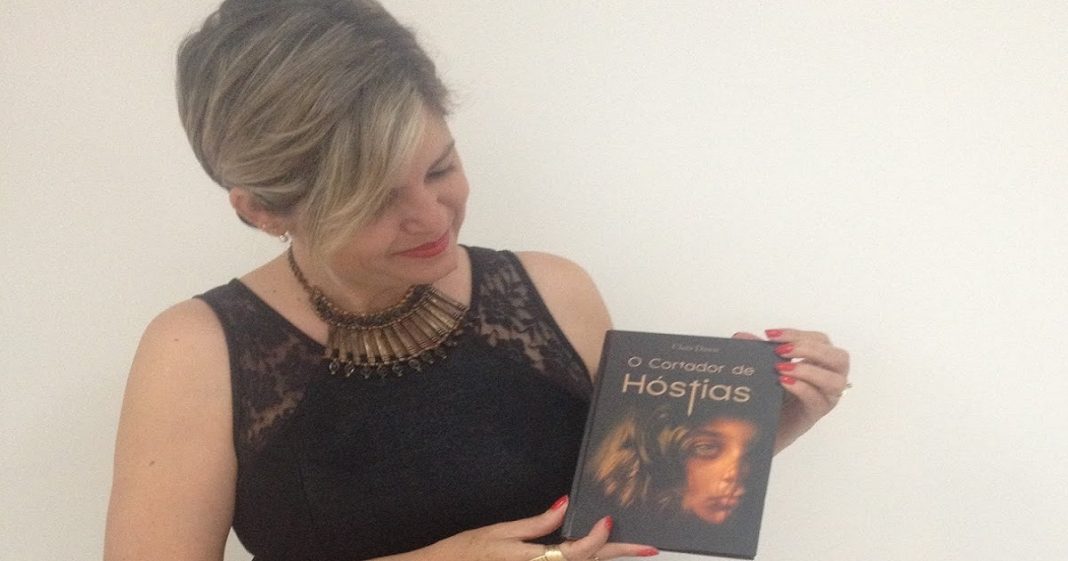Assombro. É o gran finale. Um tutti em que, na música, todas as vozes, ou linhas melódicas, se ajuntam, ou todos os instrumentos entram para que, na cadência final, tudo se acabe e o silêncio nos toma, como que desprevenidos, com a respiração retida. Mas que, nesse livro de Clara Dawn, nesse O Cortador de Hóstias, onde o profano submete o sagrado, parece não ter fim, como o acordar de um sonho que nem é sonho e nem é realidade. E fica-se, sentado no leito, a indagar para a escuridão, o que foi fantasia e o que foi a vida mesma na sua concretude cruel. Aparência ou verdade? Vai se saber…
A obra mais se assemelha a uma fuga, em moto perpetuo. Seria nos moldes da Arte da Fuga de Bach? Será? Dúvidas não nos vão faltar, como nos intrincados contrapontísticos bachianos que, geniais, tiram beleza da complexidade, ou de um aparente tumulto. E destarte vai o narrador, como sujeito elíptico, desenvolvendo a narrativa em ‘primeiras pessoas’, como se fossem linhas melódicas unindo-se e se separando, tendo ao fundo uma ‘terceira pessoa’, o narrador que, vez por outra, como uma espécie de corifeu, ‘pula para dentro do drama’. Entretanto, não vai passar despercebido ao leitor atento que uma das ‘primeiras pessoas’ é justamente o cortador de hóstias. E a sua história é uma espécie de baixo continuo, um pedal de órgão, aquilo que em harmonia dá substância aos harmônios, sons que são ‘irmãos’ ou ‘primos’ de dados sons fundamentais. E isso, por certo, funciona, como uma espécie de leitmotiv, motivo central, que trabalha dando unidade à obra. A voz do cortador de hóstias vai como que costurando a trama polifônica do conjunto de vozes em ‘primeiras pessoas’.
Não é fácil escrever um romance, ou conto, em ‘primeira pessoa’. Essa forma traz, por vezes, dificuldades. Como tratar sentimentos, ou impressões, de ‘outros’, que não o narrador, em ‘primeira pessoa’? Mas Clara Dawn resolveu o problema narrando em diversas ‘primeiras pessoas’. O que contribuiu, como forma polifônica, para a densidade da exposição.
Balzac e Stendhal, quando precipitam a trama dramática, “não param nem para colher uma florzinha, na beira do caminho”. Não há pausa possível. O fôlego é retido. Não se olha para trás, nem para admirar a paisagem, ou para se ver longe o horizonte. Nada. Os passos são imperativos. A imagem não é minha. Confesso que, uma pena, perdi a referência. Eles vão como os rios tumultuosos que descem as montanhas, levando tudo de roldão pela frente. Balzac o faz geralmente após os seus coups de théatre, as reviravoltas que mudam o curso, o ritmo da narrativa e… os destinos das personagens.
E em meio a esses destinos está a condição da mulher, tema que funciona como uma espécie de argamassa que cola os lindos pedaços de vidros multicolores de um vitral caleidoscópico, que joga a sua luz, que vem do sol, nos espaços escuros das catedrais. Partes soltas de cores que são como que unidas pela beleza, ou amor, que derramam o seu calor sobre lajes cinzentas e frias. Ali está a brutal desigualdade que ainda imperava, entre nós, mesmo nos princípios do século XX. Mulheres vendidas por pais. Às vezes por eles abandonadas. Qual a diferença? Jogadas no mundo da existência. E aí? O que lhes restaria senão o corpo frágil? Um corpo seu? Será? Para se dizer o menos. Por séculos, as mulheres, inclusive as belas, por mais razões ainda, foram usadas para selarem alianças de dinastias entre reis coroados e senhores da guerra. Interesses de Estado. Que o diga Henrique VIII da Inglaterra. Uma democrática Inglaterra que somente em 1918 iria reconhecer o direito das mulheres ao voto. Por aqui, isso se daria, não muito mais tarde, em 1932. Se o mundo era ruim, que o digam os homens…
O Cortador de Hóstias conta a história, algo trágico, de uma dessas mulheres. Cecíla Meireles dizia que cantava porque existia e porque era poeta. Cora Coralina cantava dizendo que os seus versos tinham o peso do machado. Nhanhá do Couto encheu os nossos gerais e veredas com a música do seu piano francês trazido para Goiás em carro de bois. Belkiss Spencière e Glacy Antunes continuaram a sua obra, ensinando os jovens, e inundando a nossa Goiânia com a música dos grandes mestres. Aqui… aqui mesmo, nas quebradas da Grande Floresta. Elas deram o seu recado. O de Clara Dawn também está dado.
Mas, e o assombro? E o gran finale? O assombro aparece após o penúltimo, e grandioso, coup de théatre. O rio tempestuoso da narrativa leva margens, pedras, matacões e troncos nos seus rodamoinhos. E, num repente, estamos extáticos como no fim do Grande Sertão – Veredas de Guimarães Rosa, ou do fecho de O Tronco de Bernardo Elis. A respiração está retida. Assim mesmo como ficavam os assistentes de Romeu e Julieta, e de Otelo, de Shakespeare, no Globe Theatre, em Londres. Descobrimos, então, a verdade do que dissera o desesperado e impotente Marke, em Tristão e Isolda, de Wagner: “o mal anda mais rápido do que o bem”.
No último golpe de teatro, um verdadeiro deus ex-machina, que parece, não descer dos céus, mas, provir do inferno, na voz do corifeu, não sabemos se estamos diante do sonho, da fantasia, da loucura, da quimera, ou da nua e seca realidade. Onde estariam as fronteiras disso tudo? E o tempo? Qual seria o tempo? As aparências tomam conta do real? Elas seriam a verdade? Mestre de palco! Pano de boca!
Crítica feita pelo escritor e musicista João Cezar Pierobom